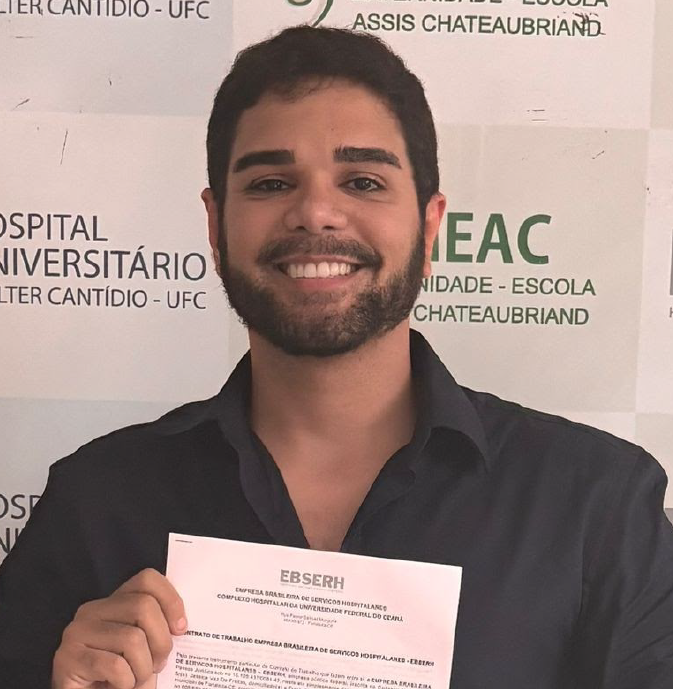Hoje iniciamos uma nova série de artigos. Propomo-nos a responder à seguinte problematização: o Estado é o único produtor de normas sociais? Ou melhor, só é Direito o que provém do Estado?
De antemão, respondemos que duas grandes escolas do pensamento jurídico ocidental divergem ao responderem esses questionamentos. Para as escolas monistas, a resposta é um peremptório “sim”, ou seja, Direito é igual a Estado. Já as escolas pluralistas respondem negativamente à pergunta, uma vez que reconhecem a existência de múltiplas ordens jurídicas convivendo, harmonicamente ou não, com Estado no interior da sociedade.
Como foi possível a construção de respostas diametralmente opostas? Eis outra problemática que pretendemos esmiuçar mais adiante, reconstruindo, de forma um tanto superficial, o contexto histórico, teórico e social no qual se desenvolveram as duas perspectivas.
Essa reconstrução nos parece imprescindível, quando partimos do pressuposto de que todo objeto pode ser observado de diversos ângulos e que, a cada ângulo, ele demonstrará diversa face, à semelhança de um poliedro irregular. Por isso, optamos por contextualizar historicamente o desenvolvimento de cada uma das ideias que iremos expor, numa interdisciplinaridade que nos parece indispensável para demonstrar o maior número possível de faces do nosso objeto de estudo.
Não queremos com isso afirmar que pretendemos esgotar, exaurir o tema em questão. Pelo contrário, reconhecemos ser tal tarefa impossível, mesmo se dedicássemos toda uma vida a esse intento. Apenas queremos demonstrar que o monismo e o pluralismo refletem seus contextos históricos, tendo servido para fundamentar as mais diversas formas de atuação do Estado, deixando-nos como herança um rico arsenal teórico, que vai desde o mais extremo formalismo, numa tendência universalizante, ao mais complexo ceticismo, fazendo com que o tema se torne instigante para o investigador.
Como forma de expor com melhor didática o conteúdo pretendido, faremos uso da classificação dos ciclos do monismo jurídico proposta por Antônio Carlos Wolkmer, em sua obra Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito, na qual se distinguem quatro diferentes ciclos do monismo jurídico, quais sejam: a formação, a sistematização, o apogeu e a crise.
Sabemos que toda classificação de certa forma mutila, uma vez que não permite demonstrar todas as particularidades dos diferentes objetos classificados. Contudo, é forçoso reconhecer que a mente humana é limitada e não procede sem generalizações, sendo imperioso agrupar objetos semelhantes para torná-los compreensíveis, sobretudo numa exposição que tem caráter didático.
Feitas as ressalvas e os apontamentos iniciais, passemos, então, ao conteúdo propriamente dito do texto, começando com a formação do monismo jurídico.
Segundo Wolkmer, a formação do monismo jurídico dá-se entre os séculos XVI e XVII, ou seja, coincide com a formação do Estado Moderno. Como é sabido, este nasce absolutista, suplantando o regime feudal, no qual preponderam os vínculos senhoriais e corporativos no interior de cada reino, que limitam e repartem o poder central, havendo forte vínculo de subordinação do Rei ao Papa, contrapondo-se, pois, o poder espiritual ao poder temporal, levando a frequentes lutas, que debilitavam ainda mais o poder central (MIRANDA: 2005, p. 35).
O jusnaturalismo teológico fundamentava essa subordinação do poder temporal ao poder espiritual, Agostinho, por exemplo, defendia que os chefes espirituais deveriam intervir sobre os destinos de um povo, exatamente para conduzi-los em direção à pax aeterna; ou seja, o poder político deve estar subordinado ao poder divino, interpretado por seus legítimos representantes: o clero. Para o teórico, as leis terrenas contêm imperfeições, reflexo das limitações humanas, mas são a garantia da ordem social. Contudo, para serem chamadas de direito, devem estar aproximadas da justiça, ratio essendi do direito, significando “atribuir a cada um o que é seu” (BITTAR e ALMEIDA: 2002, p. 190 e 195). E só os legítimos representantes da palavra divina poderiam orientar o poder terreno no sentido de se alcançar a justiça.
Mas as fraquezas do sistema feudal vão para além da descentralização política. Havia, ainda, o localismo da vida social, a precariedade das estruturas econômicas, uma vez que cada feudo possuía sua moeda e suas regras, a precariedade da tutela dos interesses e direitos individuais, entre tantos outros fatores que culminaram com a crise do sistema nos séculos XIII-XIV.
Nesse contexto de crise, o rei empreendia esforços para se libertar das amarras internas e externas ao desenvolvimento da plenitude do seu poder. Internamente, buscou a centralização do poder, retirando as faculdades dispersas entre os senhores feudais, bem como os privilégios da nobreza. Externamente, lutava pela emancipação política em relação ao Papa, numa tentativa de separação político-religiosa (MIRANDA: 2005, p. 37).
Também a eclosão de diversas guerras, como a Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra, funcionou como importante justificativa fática para a necessidade de fortalecimento do poder real, sobretudo no que diz respeito à defesa do seu povo e seu território. Além disso, a união da população em torno do objetivo comum da luta armada gerou um forte sentimento nacionalista nos povos envolvidos nas guerras travadas neste período.
Nesse contexto, a noção de soberania defendida por Jean Bodin possibilitou a fundamentação jurídica do poder que o rei almejava, o que demonstra que o direito não se reduz a um quadro condicionado, sendo, mormente, “um elemento condicionador da evolução social e política” (MIRANDA: 2005, p. 37).
Ora, o monarca é o escolhido por Deus para representar Seu poder na terra, devendo todos a ele obedecer. Sendo assim, a noção de soberania implica imediatividade, uma ligação direta entre o Estado e o indivíduo, sem necessidade do intermédio da Igreja. Todos estão, pois, submetidos ao poder do rei, sejam nobres ou plebeus. Todos são seus súditos.
A ideia de soberania permite, portanto, a concepção do direito a partir de um princípio centralizador. “Dessa forma, todos os seres tinham sua unidade de convergência em Deus; assim como a verdade só podia ser uma, assim também o direito só podia ser um, dentro de determinado território, de determinada esfera de poder” (FERRAZ JR., 2003, p. 65).
Assim sendo, ao processo de unificação política acompanhado dos processos de unificação jurídica, intensificada com a configuração das modernas nações comerciais europeias, e sua crescente interrelação, incompatível com o fragmentário direito local e costumeiro reinante, sedimentou-se que todo direito deveria provir do Estado Soberano, uma vez que é o único capaz de conduzir à justiça, espelhada na lei divina.
Nesse primeiro momento, portanto, o absolutismo tem a sua base firmada no jusnaturalismo teológico: o rei pretendendo-se escolhido por Deus, governando pela Sua graça, exerce uma autoridade que se reveste de fundamento ou de sentido religioso. O direito só começa a perder progressivamente esse caráter sagrado a partir das mudanças operadas na Europa pela Reforma Protestante e pelo Renascimento Cultural.
Segundo bem coloca Michel Miaille (2004, p. 257), “bastaria para dessacralizar totalmente o direito colocar a questão de Grotius: ‘e se Deus não existisse?’. A resposta é que o direito natural não deixaria por isso de existir”. Doravante, o direito natural passa a ser entendido como o conjunto dos princípios ou das regras ditadas pela recta razão, dissociada da carga ética da ideia de justiça, defendida pela escolástica, segundo a qual o direito natural decorre da natureza das coisas.
Para Hugo Grotius, o direito natural emanaria dos princípios internos do homem, e não da natureza das coisas, reflexo da lei eterna, na concepção Tomista. A ênfase dada ao homem, colocando-o no centro da discussão filosófica da época, deixa clara a perspectiva individualista do Renascimento. Retira-se de Deus o papel de legitimar o poder, pondo na razão humana, igualmente transcendental, metafísica, a legitimação do poder político e da ordem social.
Os sucessores de Grotius deram continuidade ao processo de laicização do direito natural, deduzindo seus princípios ou do egoísmo, como em Hobbes, ou da sociabilidade, como em Puffendorf, ou de um estado natural de igualdade e liberdade, como em Rousseau. Nesse contexto, ensina-nos Hermes Lima (2002, p. 212) que:
A construção racional sobre a qual repousava a base dessa igualdade era o estado de natureza, de onde os indivíduos, livres, iguais e até felizes, teriam partido para as formas de convivência política, que a noção de Estado comporta.
Essa mudança de perspectiva teórica também não se dissocia dos fatores políticos, econômicos e sociais em construção à época. O Estado Absoluto, antes importante para gerar a estabilidade e a uniformidade necessária ao desenvolvimento das atividades burguesas, passa a ser encarado como entrave, uma vez que o poder soberano do monarca não encontrava limites no plano terreno, podendo de tudo dispor dentro do seu território. Faz-se, então, necessário que se garantam os direitos do homem, os seus direitos naturais subjetivos, sobretudo o direito à propriedade, por meio de um processo de contestação e deslegitimação do poder soberano do rei.
A livre competição e a economia baseada no acúmulo de riquezas e no lucro, antes condenado como usura pela Igreja, projetavam formalmente o indivíduo como centro da atividade econômica e social. Dessa forma, a autonomia da razão humana era, ao mesmo tempo, a autonomia de sua personalidade e de sua vontade (LIMA: 2002, p. 212).
Assim, ao jusnaturalismo teológico sucede o jusnaturalismo humanista, trocando o transcendentalismo da “razão divina” pelo da “razão humana”, apoiando-se, ainda, em valores universais, uma vez que a perspectiva relativista não serve ao propósito revolucionário. Ora, “toda atitude criadora necessita a afirmação de algo incondicionado, a crença em valores eternos” (MACHADO NETO: 1987, p.217).
A base contratualista do jusnaturalismo humanista é inegável, sendo a Teoria Hobbesiana um dos maiores expoentes do período. Thomas Hobbes caracterizou o estado de natureza, em que os homens inicialmente viviam, como um estado de guerra de todos contra todos. Para Hobbes, o homem pode ser chamado de homo homini lúpus (lobo do próprio homem), sendo sua vida “solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta” (HOBBES: 1999, p. 109). Por medo da morte violenta, o homem convenciona o Estado por meio de um pacto, preferindo a ditadura de um a ditadura de todos, alienando todos os seus direitos e liberdades ao Estado Absoluto, ao Leviatã soberano.
O que importa, por fim, ressaltar é que o surgimento do Estado Moderno – soberano, absoluto, centralizado – possibilitou a formação do monismo jurídico, identificando o Estado como único e legítimo produtor das normas de conduta, seja porque é o único representante legítimo da vontade divina na Terra, sendo o único capaz de levar seus súditos à paz eterna, seja porque representa produto de um pacto social, no qual o homem, livre e racional por natureza, abre mão da sua liberdade e soberania em favor do Estado, para que este assegure o desenvolvimento e a paz, impedindo que prevaleça o império da lei do mais forte.
Eis o ponto inicial do monismo jurídico, seu nascimento. Com isso, constrói-se a crença no Estado como único produtor do direito.
Bem, por hoje é só.
Próxima semana, falaremos da segunda fase do monismo jurídico: a sua sistematização.
Até lá!
Chiara Ramos
 Doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, em co-tutoria com a Universidade de Roma – La Sapienza. Graduada e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Procuradora Federal, desde 2009. Atualmente exerce o cargo de Diretora da Escola da Advocacia Geral da União. É Editora-chefe da Revista da AGU, atualmente qualis B2. É instrutora da Escola da AGU, desde 2012Foi professora da Graduação e da Pós-graduação da Faculdade Estácio Atual. Aprovada e nomeada em diversos concursos públicos, antes do término da graduação em direito, dentre os quais: Procurador Federal, Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Técnica Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região, Técnica Judiciária do Ministério Público de Pernambuco, Escrivã da Polícia Civil do Estado de Pernambuco.
Doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, em co-tutoria com a Universidade de Roma – La Sapienza. Graduada e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Procuradora Federal, desde 2009. Atualmente exerce o cargo de Diretora da Escola da Advocacia Geral da União. É Editora-chefe da Revista da AGU, atualmente qualis B2. É instrutora da Escola da AGU, desde 2012Foi professora da Graduação e da Pós-graduação da Faculdade Estácio Atual. Aprovada e nomeada em diversos concursos públicos, antes do término da graduação em direito, dentre os quais: Procurador Federal, Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Técnica Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região, Técnica Judiciária do Ministério Público de Pernambuco, Escrivã da Polícia Civil do Estado de Pernambuco.
Prepare-se com quem tem tradição de aprovação e anos de experiência em concursos públicos. Cursos online com início imediato, visualizações ilimitadas e parcelamento em até 12x sem juros!
![[OPERAÇÃO XEQUE-MATE] Preço R$ 54,90 – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04163344/operacao-xeque-mate-cabecalho.webp)



![[OPERAÇÃO XEQUE-MATE] Preço R$ 54,90 – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04164337/operacao-xeque-mate-post.webp)